

Retrospectiva 2025 - PROAM Mídia Review 2025
2025 foi um ano de múltiplos desafios para a agenda ambiental. Foi destaque a COP30, realizada no Brasil, que enfrentou enormes desafios e obteve resultado de poucos avanços práticos, enquanto o problema climático vem se agravando de forma exponencial. O PROAM trabalhou ativamente durante 2025 visando influenciar positivamente os meios de comunicação para o aumento da consciência crítica da população. Este vídeo permite a compreensão da abrangência dos temas ambientais debatidos na mídia e a abrangência da atuação do PROAM, complementada ainda por centenas de publicações escritas em jornais, revistas e sites.


Leia publicação original no O Eco Diplomacia climática pós-COP30 - ((o))eco
Diplomacia climática pós-COP30
A diplomacia climática atual se apresenta cheia de boas intenções, de esboços para discussão, de textos preliminares e pouquíssimos avanços
- Carlos Bocuhy é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental (Proam)
Conceituar diplomacia climática não é difícil. Difícil é fazer com que ela funcione nos tempos atuais. Trata-se do uso de ferramentas diplomáticas para promover a cooperação internacional e fortalecer o regime global para combater as mudanças climáticas. Envolve negociações entre países para criar e implementar acordos como o Acordo de Paris, além de buscar alinhar políticas de desenvolvimento com sustentabilidade, proteger ecossistemas e garantir a transição para economias verdes.
Desde a Conferência de Paris, o cenário geopolítico global passou por alterações que tiraram o foco do grave e crescente problema humanitário do aquecimento global.
A diplomacia climática atual se apresenta cheia de boas intenções, de esboços para discussão, de textos preliminares e pouquíssimos avanços. Chamam essa realidade fase de implementação, porém os textos finais apresentam evidente omissão com relação aos combustíveis fósseis, a maior causa do problema climático.
Sejamos realistas. Ainda não atingimos estágio de implementação, a fase é de tentativas. Países interessados no petróleo e com modelos anacrônicos de crescimento (não de desenvolvimento) trabalham sistematicamente, de forma velada ou não, para obstruir negociações.
Parece óbvio que a raposa, que faz parte do problema da segurança do galinheiro, tentará minar seu regimento interno protetivo. Mesmo assim, para evitar dissidência, não se toca no regime alimentar das raposas.
Nem sempre foi assim. No auge do multilateralismo climático, durante a COP21 de Paris, o mundo diplomático, com vigor, impulsionou negociações que se transformaram no Acordo de Paris, o principal tratado resultante do esforço diplomático climático.
Adotado em 2015, e tendo entrado em vigor em 2016, o acordo estabelece metas para limitar o aquecimento global a menos de 2ºC e buscar manter 1,5ºC, exigindo que cada país signatário apresente suas próprias Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs).
Mas o que aconteceu desde então?
Não foram poucas as pragas que se sucederam à Conferência de Paris: a ascendência de forças puramente mercantilistas nos Estados Unidos da América e seu séquito de representantes do setor fóssil; o advento da Covid e a velha verve expansionista russa, com a invasão da Ucrânia e as consequências energéticas para a velha Europa; o infeliz ataque do Hamas ao território israelense, que culminou no genocídio ocorrido em Gaza; o retorno de Donald Trump à presidência dos EUA com sanha insaciável de interesses econômicos agregados para sufocar forças progressistas que impedem que a maior economia do mundo lide, de forma minimamente satisfatória, com o desafio climático.
Assim, o multilateralismo colaborativo, que deu gênese ao Acordo de Paris, praticamente feneceu no cenário global. Necessita ser revitalizado. As conferências do Azerbaijão e do Brasil foram as COPs mais esvaziadas e os países foram à mesa de negociações cheios de interesses pessoais, domésticos, econômicos e geopolíticos.
A divisão/fragmentação do mundo em blocos multipolares, em torno da China, e outros que pretendem conquista de espaço como o Brasil, situam a relação entre as nações em mundo multifacetado de contradições entre crescimento e desenvolvimento. Isso está claro no business as usual impregnado ao Brasil, que agora preside a COP30. Em sua abertura defendeu gigantesca perspectiva de produção petrolífera “para financiar transição energética”.
Os resultados da COP30 são limitadíssimos e omissos frente à necessidade urgente de medidas que representem eficaz intervenção na realidade, como a eliminação do uso de combustíveis fósseis e o aporte de recursos para socorrer países em desenvolvimento para sua transição energética, para prevenir e suportar impactos climáticos.
Se fosse uma convenção sobre tabagismo, teria sido uma tratativa onde os partícipes não teriam conseguido pautar o banimento do cigarro.
A proposta “Mapa do Caminho” protagonizada pelo Brasil, com adesões pleiteadas insistentemente dentro do mutirão multilateral, conseguiu até meados desta segunda semana da COP30 agregar compromisso de 82 países para se afastarem dos combustíveis fósseis. Mas só ganhou status de texto paralelo.
As adesões representam 25% da população e do PIB mundial. Ou seja, em uma conferência estratégica como a COP30, o comprometimento para com uma agenda de ação foi subscrita por apenas um quarto do potencial populacional e econômico global, que responde por apenas 15% da produção total de combustíveis fósseis.
Há um detalhe importante: desse potencial, o Brasil é o maior produtor de petróleo e nas últimas semanas anunciou expressivo aumento de produção.
É necessário repensar a diplomacia climática em seu atual formato de singelos drafts de boas intenções. Nos remete aos meios possíveis de ação, de como os diversos setores de direitos humanos, as cortes internacionais de Direito, poderiam contribuir para turbinar esse processo anêmico.
Como os diversos setores da ciência climática, que sinalizam riscos severos à humanidade, poderiam ser mobilizados para pressionar por eficiência climática? Como as áreas de saúde, agricultura, recursos hídricos e das cidades, cada vez mais vulnerabilizadas, poderiam atuar para a eficácia da diplomacia climática? Como transformar o modelo econômico global autofágico?
Albert Einstein conclui que “nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo estado de consciência que o criou“. Para encontrar solução, é preciso mudar a perspectiva ou o “nível de consciência” a partir do qual o problema foi criado.
Não é possível resolver um problema com a mesma mentalidade do status quo que o gerou. É necessário novos pontos de vista para encontrar saídas. Usar as mesmas ferramentas intelectuais e emocionais podem levar à “paralisia analítica”, ou à incapacidade de ver novas soluções.
Defender que o uso do petróleo irá financiar a saída da crise climática é um excelente exemplo de péssima iniciativa – que irá gerar piora de cenário. Trata-se de insuficiência analítica.
A exploração de 10 bilhões de barris na região da foz do Amazonas dispenderia investimentos imediatos altíssimos e poderia legar ao Brasil cerca de US$ 600 bilhões, mas geraria impactos ao planeta estimados em US$ 5,16 trilhões, de acordo com métrica macroeconômica apontada pela Universidade de Stanford (USA). A tragédia climática recente do Rio Grande do Sul consumiu, apenas dos cofres públicos federais, o valor de R$ 111 bilhões.
Assim, o formato hoje utilizado para a diplomacia climática necessita ser repensado, pois está se transformando em narrativa onde boas intenções parecem satisfazer a perspectivas das ações necessárias.
A fórmula das COPs que garante o imobilismo é notória. Os eventos climáticos abrem espaço para ilusória participação não governamental. A área decisória estatal é estanque. O clima de celebração proporciona aos partícipes o desejável e o indesejável: a informação e a troca de experiência, mas entre iniciativas heroicas e pressão de exigência social circulam lobistas fósseis aos milhares em sintonia com petroestados.
É preciso evitar o efeito legitimador com informação e criticidade necessárias. É preciso atentar para a legitimação de eventos em seu aspecto festivo, palanque de discursos fáceis que abortam temas que, em aspectos resolutivos, não ocorrem.
A mídia cobre o factual enquanto o essencial sucumbe. Detrás das cortinas da Blue Zone, assolada ao final por um incêndio, postergam-se ações essenciais para alimentar perspectivas posteriores que, novamente, com base no mesmo formato insuficiente, tenderão a ser postergadas.
Além das incongruências nacionais, talvez a resposta para a crise climática esbarre na velha dificuldade da Liga das Nações, da velha ONU, que merece boa reforma, mantendo seus avanços em Direitos Humanos e solucionando inconsistências democráticas, especialmente para reconsiderar impactos que parte da humanidade mais rica causa sobre os menos favorecidos.
Mas o modelo econômico atual tem empurrado a humanidade para o precipício, em sanha de consumo onde, cedo ou tarde, todos pagarão a conta. A solidariedade e a generosidade que deveriam permear os avanços estão sendo abafados pelo crescimento do individualismo pessoal/nacionalista. Se na atual fase de relativa prosperidade isso já ocorre, sequer podemos imaginar a barbárie que poderá advir de possíveis cenários de disputas por recursos de sobrevivência que se instalam no horizonte climático.
Mikhail Gorbachev, em 1988, usava o plenário da ONU para defender uma perestroika (reestruturação) das políticas ambientais globais, argumentando que o planeta precisava de uma nova visão política compatível com os desafios ecológicos e a necessidade de reduzir a brecha entre países ricos e pobres. Vinculava a paz global e o desarmamento nuclear à sustentabilidade ambiental, vendo ambos como pilares essenciais para o futuro da humanidade.
O desafio continua posto. Os cenários estão previstos. A capacidade transformadora minimamente desenhada. Projeções apontam que as políticas atuais levarão ao aumento do aquecimento médio global em até 4,5ºC até o final do século. Mas média não é realidade local. Envolve áreas mais frias como polares e os oceanos. Áreas do Nordeste do Brasil já apresentam + 4ºC e estão em processo de desertificação. Há ainda riscos seríssimos de efeitos-cascata sobre os ecossistemas, que poderão ampliar a margem de aquecimento.
Somos humanidade em risco. Caberá à diplomacia climática pós-COP30 construir a resolução para essa crise de sobrevivência.


Assista no YouTube: Visão Crítica analisa COP30
O historiador Marco Antônio Villa aborda aquecimento global e o contexto geopolítico em que se insere a COP30, em entrevista com o Presidente do PROAM, Carlos Bocuhy


Manifesto do Trópico de Capricórnio é entregue por ocasião da COP30 às Nações Unidas e chefes de Estado participantes do Acordo de Paris
Veja em: COP 30: Manifesto alerta para crise e responsabilidade dos líderes - ((o))eco
São Paulo de Piratininga, biosfera do Trópico de Capricórnio.
Somos biosfera, ao Sul do Equador. Nos reunimos sob a linha imaginária do Trópico de Capricórnio, que corta a Metrópole de São Paulo, para avaliar a crise civilizacional em que estamos mergulhados.
A linha não divide a biosfera. Foi criada para orientar conquistas, para navegar a divisão do mundo, para zonas de influência e dominação. Conquistas que só fazem sentido para aqueles que se arvoram descobridores.
A civilização humana não descobriu a biosfera. Faz parte dela! As conquistas são apenas modelo de poder econômico, que ignorou o valor da biodiversidade e das comunidades tradicionais.
Nosso universo tropical cingido pelo marco do Trópico de Capricórnio é também esquina do mundo. Abriga um caleidoscópio de raças, culturas, religiões, crenças e credos. Universo vivo, como o planeta Terra!
Em defesa da vida nos reunimos, por meio deste manifesto para a COP30, para dizer que a atmosfera do planeta é de todos os seres vivos. É direito humano e da biodiversidade. Assim, pedimos que nos ouçam, governos que se reunirão em Belém do Pará!
Está em suas mãos proteger ou destruir o nosso futuro. Nosso solo não é apenas commodity. Dessas raízes profundas nasceu o Modernismo, que há um século percebia a necessidade de bradar contra a apropriação cultural e material forjada no outro hemisfério.
Não é possível dar preço à Biosfera, ao Curupira, o Guardião das Matas! Quanto pode custar, em qualquer moeda, nossa Onça-Pintada e os saberes tradicionais?
Então ouçam-nos, povos do Norte, a felicidade não é maquinaria e a vida não é a mentira muitas vezes repetida, de materialidade impingida! Aqui está, no Trópico de Capricórnio, a profusão das florestas e da biodiversidade da Mata Atlântica, da Cantareira, da Mantiqueira à Serra do Mar, com milhões de vidas e espécies vivas, presentes e futuras. Aqui vivemos sobre este sagrado solo capricorniano, ethos de tantas raças, credos e pujança de vida!
Nenhuma parte da humanidade, especialmente nações ricas e poderosas, podem negar nosso futuro e o de nossas crianças. Os países com economia fóssil não podem ignorar a realidade, obstacularizar acordos e tutelar medidas insuficientes, enquanto o mundo aquece de forma intensa e irreversível. E reage, cada vez mais, com força destruidora sobre toda a humanidade e os ecossistemas plenos de vida.
Ouçam-nos, governantes que se reunirão em Belém do Pará: há 40 anos o relatório Brundtland ficou famoso por introduzir o termo “sustentabilidade”. Quem não se intitula sustentável hoje? Sem greenwashing, será sustentável o desenvolvimento sustentável? Este desacreditado jargão “sustentabilidade” precisa cingir-se de sua melhor tradução, a “sobrevivência”. É preciso decisões corajosas, é preciso comprometimento real para garantir sobrevivência.
Clamamos pela solidariedade global que se perdeu. Onde está o espírito que deu vida ao Acordo de Paris? Onde está a ética para com a vida?
Nossa sobrevivência depende de ações de baixa entropia, que não ultrapassem limites planetários. Precisamos de urgente decrescimento dos impactos, de responsabilidade ética e política, com equidade. Precisamos de justiça ambiental e intergeracional.
Observem, governos reunidos em Belém do Pará, o rompimento das fronteiras planetárias. É muito mais do que carbono a ser sequestrado, mais que carbono a ser evitado. Estamos certos de que se juntam, aos apelos de nosso Trópico de Capricórnio, nossos irmãos da Amazônia, do Pantanal, do Cerrado, da Caatinga, dos Pampas e da Mata Atlântica.
Ouçam, estadistas! Vocês se reunirão em Belém com um dever sagrado: enfrentar a profunda crise que se abate sobre o gênero humano. Mais do que uma crise ambiental, é crise civilizatória. Em um planeta doente não pode existir uma humanidade saudável! A Crise é sem precedentes, de escala planetária, dominada por atividades predatórias da energia fóssil, de modelos de vida dominados pelo hiperconsumismo materialista. Crise de valores e de modelos econômicos, onde prevalece a mercantilização da natureza, desprezando a dignidade da vida e os limites naturais.
É preciso profunda reestruturação energética e econômica global, abandonando o conceito raso do Produto Interno Bruto, que ignora impactos gerados sobre a vida, especialmente a dos mais vulneráveis. É preciso um novo paradigma civilizatório!
Nós bradamos sob a luz do Cruzeiro do Sul para que assumam seu dever de compromisso com a vida, com a atmosfera! A crise em que estamos mergulhados não aceita soluções simplistas ou intervenções pontuais. É preciso ciência, é preciso ética!
Ouçam-nos! A humanidade necessita de ações reais. A biosfera não aceitará simulações. Não nos resta mais tempo!
O Manifesto será entregue à Secretaria Geral das Nações Unidas em Nova York, em 3 de novembro, em versões português-inglês, com solicitação para envio urgente aos 195 países-membros do Acordo de Paris. Para assinar o Manifesto envie o nome de sua entidade para o e-mail proam@proam.org.br
Assinam o presente Manifesto:
PROAM-Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental – São Paulo – SP
Coletivo de Entidades Ambientalistas do Estado de São Paulo – SP
Carlos A.H.Bocuhy – ex-conselheiro do Conama
José Carlos Carvalho - ex-ministro do Meio Ambiente
Yara Schaeffer-Novelli – Professora Senior da Universidade de São Paulo
Sonia Corina Hess – Universidade Federal de Santa Catarina - SC
Luiz Marques – UNICAMP – SP
José Rubens Morato Leite – Professor Titular da UFSC – SC
Deputado Federal Nilto Tatto (PT), presidente da Frente Parlamentar Ambientalista da Câmara Federal
Vilázio Lellis Jr – ex-conselheiro do Consema - SP
Geraldo Majela Moares Salvio – Grupo de Pesquisa em Áreas Protegidas do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais
Ricardo Stanziola – Professor da UNIVALI – SC
Grupo de Pesquisa Direito Ambiental e Ecológico Política na Sociedade de Risco - GPDA/UFSC
Associação Pau-Brasil – Ribeirão Preto - SP
Marcelo Marini Pereira de Souza – ex-conselheiro do Consema – SP
SESBRA – Sociedade Ecológica de Santa Branca – SP
Mauro Frederico Wilken – ex-conselheiro do CONAMA
Instituto MIRA-SERRA – Porto Alegre e São Francisco de Paula – RS
Lisiane Becker – conselheira do Conama
IDA- Instituto de Desenvolvimento Ambiental – Brasília - DF
Luiz Mourão de Sá – ex-conselheiro do Conama
SODEMAP – Sociedade para a Defesa do Meio Ambiente de Piracicaba – Piracicaba – SP
Movimento Defenda São Paulo – SP
Heitor Marzagão Tommasini – ex-conselheiro do CONSEMA - SP
Campanha Billings, Eu te quero Viva! – São Paulo – SP
PROESP - Sociedade para Proteção da Diversidade das Espécies – Campinas – SP
Instituto Bioma Brasil – Recife – PE
Clemente Coelho Júnior – Universidade de Pernambuco (UEP)
DHEMA – Direitos Humanos e Meio Ambiente – São Paulo – SP
Instituto Ibióca – Embu das Artes - SP
Fórum Permanente em Defesa da Vida – São José dos Campos - SP
Associação dos Moradores do Jardim da Saúde – São Paulo – SP
Movimento Resgate Cambuí – Campinas – SP
Instituto Beira Rio de Piracicaba – SP
Associação dos Amigos da Lagoa – Piracicaba - SP
OPA-Jandaia – Organização de Proteção Ambiental Jandaia – Diadema - SP
Deputado Estadual Carlos Gianazzi – ALESP – SP
Vereador Celso Gianazzi – CMSP – São Paulo – SP
Deputada Federal Luciene Cavalcanti – Brasília – DF
Grupo Brasil Verde – Além Paraíba - MG
SOS Manancial – São Paulo – SP
Núcleo Regional do Plano Diretor Participativo – São José dos Campos - SP
Movimento Reviva Vila Carioca – São Paulo - SP
Boisbaudran Imperiano - ex-conselheiro do Conama
Movimento SOS Guaraciaba – Santo Andre - SP
GPME - Grupo de Preservação dos Mananciais do Eldorado - SP
MDV – Movimento em Defesa da Vida do Grande ABC – SP
Virgílio Alcides de Farias – ex-conselheiro do Consema - SP
Gerson de Freitas Junior – Professor da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo - FATEC - SP
APASC – Associação para Proteção Ambiental de São Carlos – SP
Ricardo Braga – Professor Emérito da UFPE e ex-conselheiro do Conama
Preservar Ambiental – Itapecerica da Serra – SP
Sociedade Ecológica Amigos do Embu – SP
Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental – FMCJS
Instituto Amazônia Viva – Boa Vista - RR
Vicente Cioffi – Secretaria Executiva do Coletivo de Entidades Ambientalistas do Estado de São Paulo
Associação dos Pesquisadores Científicos de São Paulo – APqC
Helena Dutra Lutgens - Pesquisadora Científica, Presidente da APqC
Academia Paraibana de Direito-APD – João Pessoa - PA
Coletivo Jardins – São Paulo – SP
Lucila Lacerta - Ex-Conselheira do CONSEMA/SP - Diretora Executiva do Movimento Defenda São Paulo
Associação Amigos do Jardim das Bandeiras – São Paulo – SP
Gabriel Alves da Silva Júnior – Conselheiro do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana de São Paulo - CONDEPE
Capítulo Laudato Si – São Paulo
União de Hortas Comunitárias de São Paulo
Hermano Albuquerque Castro – Pesquisador Titular Fiocruz
Fórum das ONGs Ambientalistas do DF – Brasília – DF
FUNATURA – Brasília – DF
IPAN - Instituto Panamericano do Meio Ambiente e Sustentabilidade – São Paulo - SP
Ivan Carlos Maglio - FAU/USP
Ricardo Harduim - Prima Sustentabilidade – Niterói (RJ)
Antonio Donato Nobre – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)
Instituto Guaicuy (SOS Rio das Velhas) – Belo Horizonte – MG
Deputado Federal Ivan Valente (PSOL/SP)
Djalma Nery - vereador de São Carlos/SP
Juliano Medeiros - Instituto Futuro – S. Carlos - SP
SPNat – Naturistas da Grande São Paulo
Bairro Vivo – Instituto de Desenvolvimento Urbano e Social - São Paulo – SP
Associação “Viva o Centro” – São Paulo – SP
Edison Farah – Fundador da APEDEMA – Associação Paulista das Entidades em Defesa do Meio Ambiente - ex-conselheiro do Consema/SP - 1983
MUDA – Movimento Urbano de Agroecologia
FERROFRENTE - Frente Nacional pela volta das Ferrovias - SP
ÁGUAVIVA - Associação Guarujá Viva - SP
João de Deus Medeiros – UFSC e Conselheiro CONAMA
Instituto Costa Brasilis - São Paulo-SP
Federação Brasileira de Naturismo
Coletivo Verde Sampa - SP
Prof. Tércio Vellardi – Ex-Conselheiro do Conama
Associação Amigos da Recicriança – Canoa Quebrada - CE
Cláudio C. Maretti - Grupo de Pesquisa sobre Conservação Colaborativa e Áreas Protegidas e Conservadas
Criola – Rio de Janeiro - RJ
Adriano Garcia Chiarello - Laboratório de Ecologia e Conservação - USP - Ribeirão Preto – SP
Instituto Brasileiro de Conservação da Natureza - IBRACON - Nalu Machado, Presidente
Instituto Baleia Jubarte - Eduardo Camargo – Presidente – Caravelas - BA
José Truda Palazzo Jr. - Conselheiro do CONAMA
Renato Prado - ex conselheiro do Consema SP
Débora F. Calheiros – Embrapa
Rosângela Azevedo Corrêa, Faculdade de Educação-Universidade de Brasília
Museu do Cerrado – Brasília – DF
Instituto Mangue Vivo – São José – SC
Grupo Ecológico Sentinela dos Pampas (GESP) Passo Fundo - RS
Contorno Multicultural - Embu Guaçu - SP
SOS Fauna - São Lourenço da Serra - SP
Sapitu - Sociedade dos Amigos da APA de Itupararanga - São Roque - SP
Frente Ambientalista do Vale do Paraíba SP - Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte – SP
Associação Naturista do Ceará - ANACE
Roberta Graf - Gestora e Analista de Política Ambiental – ICMBio
Comissão Socioambiental Frei Tito de Alencar – São Paulo – SP
Tiago Fernandes de Lira- Presidente do COMDEMA - Campinas-SP
Organização Ambiental Teyque'-Pe' - Piraju – SP
Associação de Favelas de São José dos Campos – SP
Instituto Árvores Vivas para Conservação e Cultura Ambiental - São Paulo SP
Juliana Gatti Pereira Rodrigues - Conselheira CONAMA
Flavio Antonio Maës dos Santos - Professor colaborador da UNICAMP – SP
Ábia Aguilar – Presidente da Associação CONAT - Comunidade Naturista
Bio-Brás – Mogi das Cruzes – SP
Movimento Campo Grande em Ação – MS
Associação Ijuiense de Proteção ao Ambiente Natural - AIPAN - Ponto de Cultura – Ijuí - RS
Thalita Verônica Gonçalves e Silva - Defensora Pública em SP
Grupo Ecológico Sentinela dos Pampas (GESP) - Passo Fundo - RS
Flávia Biondo da Silva - Presidente do GESP - Passo Fundo - RS
APAVIVA - Associação Amigos da APA de Campinas – SP
Associação de Combate aos Poluentes (ACPO) – Santos - SP
Associação de Saúde Socioambiental (ASSA) – Santos - SP
Fórum Socioambiental de Campinas – SP
Jaguatibaia Associação de Proteção Ambiental – Jaguariúna - SP
Emília Wanda Rutkowski - Profª Titular – FECFAU/UNICAMP – SP
Forum Lixo&Cidadania RMC (Região Metropolitana de Campinas) -SP
Catherine Prost - UFBA-IGEO
Jefferson de Lima Picanço – Prof. Associado - UNICAMP
Associação de Moradores da Vila Mariana – AVM – São Paulo - SP
Grupo Costeiros - UFBA – Salvador - BA
Pedro Roberto Jacobi - GovAmb/IEE/USP – São Paulo – SP
Leandro David Dolenc – Sociedade Ecológica Amigos do Embu – Embu das Artes -SP
Profa. Dra. Claudia Câmara do Vale - Programa de Pós-graduação em Geografia - Universidade Federal do Espírito Santo – ES
Fernanda Cristina Favaro - Movimento Urbano de Agricultura de São Paulo (MUDA)
Associação de Educação do Homem de Amanhã (AEDHA) - Campinas/SP
ProAnima - Associação Protetora dos Animais do DF – Brasília – DF
Heverton Lacerda - presidente da Agapan (Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural) – Porto Alegre – RS
Associação Alternativa Terrazul – Brasília – DF
Claudia Visoni – Coordenadora da Frente Alimenta - SP
Pedro Ivo Batista - Conselheiro do Conama e da Comissão Nacional dos ODS
Marcia Crespo – Coletivo Pompéia sem Medo – São Paulo – SP
Peter Mix-Apoena – SP
Fundação Zoobotânica de Marabá - Marabá – PA
SOS Manancial do Rio Cotia – SP
Yara Arouche Toledo – ex-conselheira do CADES-SP
Associação Cultural da Comunidade do Morro do Querosene – São Paulo - SP
Ecovirada - São Paulo – SP
Fórum Verde Permanente de Parques, Praças e Áreas Verdes - São Paulo – SP
Tereza Penteado – Fundadora e Presidente do Movimento Resgate Cambuí – Campinas – SP
CDPEMA-Comissão de Defesa e Preservação da Espécie e do Meio Ambiente
AMALUCA – Associação de Moradores e Amigos de Luis Carlos – Guararema – SP
Fernanda Favier – Conselheira do CONDEMA – Guararema - SP
Associação Naturista do Estado do Paraná - Nat-Paraná
EKIP Naturama – Brasília - DF
Associação de Amigos e Moradores da Granja Viana - AMOGV - Cotia/SP
SINTAEMA - Sindicato dos Trabalhadores de Água Esgoto e Meio Ambiente do Estado de São Paulo
Associação Brasileira de Combate ao Lixo no Mar - São Paulo – SP
Articulação Povos de Luta do Ceará - ARPOLU
Movimento de Atingidos e Atingidas pelas Renováveis - MAR CE
Associação Cunhambebe – ACIA – Ubatuba -SP
Jose Arimateia Lucas – Comunidade Eclesial de Base do Brasil
Caetano Scannavino - Projeto Saúde e Alegria - PA
Luciana Gatti – SPCCST/INPE Coordenadora do LaGEE - Laboratório de Gases de Efeito Estufa – INPE
Gilberto Natalini – ex-secretário do Verde e Meio Ambiente de São Paulo
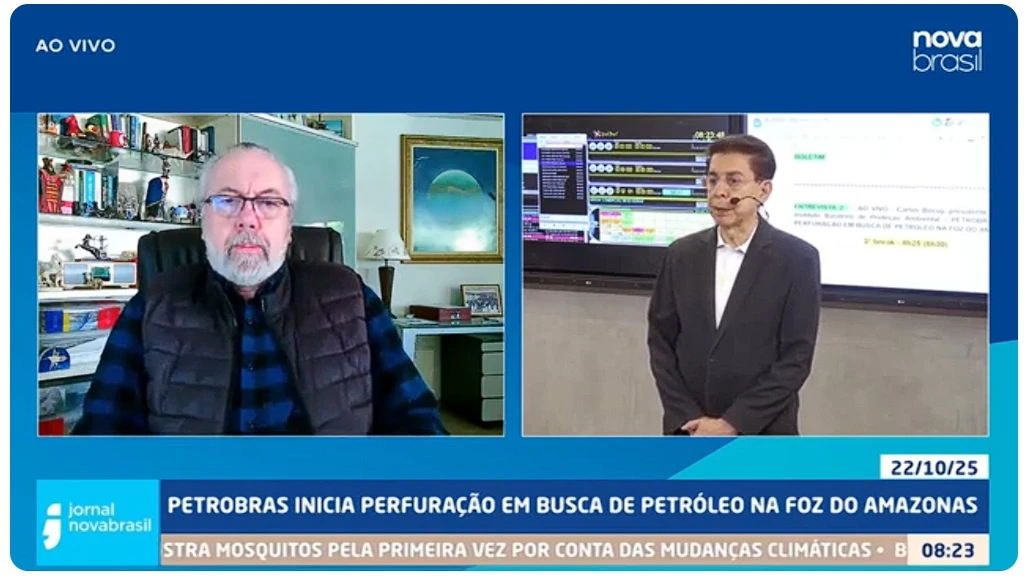
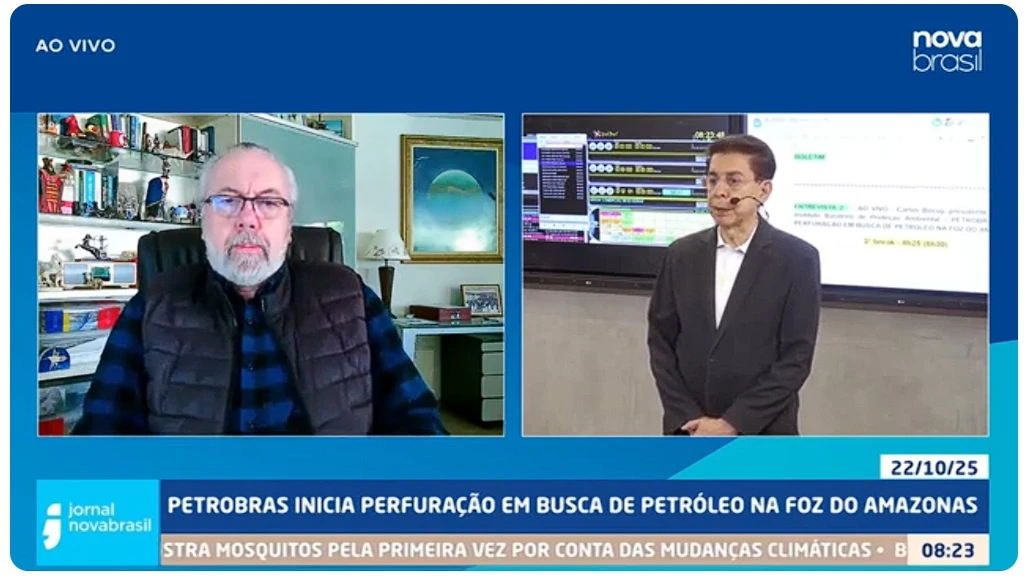
Assista no YouTube: Carlos Bocuhy explica os prejuízos ambientais com a extração de petróleo na foz do rio Amazonas
Segundo Carlos Bocuhy, os prejuízos ambientais da exploração de petróleo na Foz do Amazonas são extremamente elevados. A extração pode chegar à 30 bilhões de barris de petróleo na região. Uma vez consumido, cada barril se transforma em 420 a 440 kg de carbono. Com isso, o Brasil será responsável pela extração que gerará nada menos do que 13 bilhões de toneladas de carbono da atmosfera. Segundo o cálculo do impactos econômicos do aquecimento global, defendido por economistas da Universidade de Stanford, o prejuízo econômico planetário com essa extração seria de aproximadamente US$ 15 trilhões. O prejuízo recairá sobre a sociedade humana, especialmente aos mais vulneráveis, por meio de furacões, tempestades, secas, insegurança hídrica e alimentar, além de outros infortúnios causados pelo desequilíbrio climático, sem falar de aspectos ecossistêmicos e humanitários. Sem ciência, sem conhecimento e sem informação devida à sociedade e à humanidade, e sem contas adequadas, de imediato o Brasil enfrentará vexame inevitável, como país anfitrião da COP30, que se inicia em 10 de novembro em Belém do Pará. Não terá lastro como liderança ecológica para pedir comprometimento climático aos demais países depois dessa decisão desastrosa. Também há os riscos imediatos envolvidos. O local de extração representa péssima alternativa locacional. A área de exploração está envolta por ecossistemas frágeis que não apresentam possibilidades de mitigação em caso de vazamentos.


Os 63 pontos vetados pelo governo no projeto de lei do Licenciamento Ambiental só resolvem parte do problema, afirma Carlos Bocuhy, Presidente do PROAM-Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Bocuhy afirma que o problema é de essência, é não estabelecer regras claras para avaliações ambientais com aporte técnico, científico e com participação social. Veja no Youtube:
Vetos ao PL do Licenciamento só resolvem parte do problema afirma Carlos Bocuhy


As consequências dos desastres "naturais" não são apenas de origem natural. Decorrem de mau uso do solo e outras vulnerabilidades decorrentes da infraestrutura política, econômica e social
6 de janeiro de 2025
Carlos Bocuhy é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental (Proam) →
António Guterres, secretário-geral da ONU, em sua mensagem de Ano Novo, afirmou que passamos por uma “década de calor mortal”. Apesar dos tempos difíceis, reiterou sua fé na humanidade, mas sem deixar de pedir aos países que “saiam desse caminho para a ruína”.
A ONU aposta na capacidade de informação para melhor explicar a humanidade sobre os riscos envolvidos. Uma das maiores necessidades hoje é o esclarecer os riscos do caminho da ruína, o aquecimento global e suas pré-vulnerabilidades.
Vivemos a realidade sinérgica de um mundo interconectado. As crises ambientais, sociais e econômicas estão profundamente interligadas. Há um acirramento das condições climáticas. Isso potencializa eventos naturais e, de outro lado, há uma conjuntura de vulnerabilidades pré-existentes provocadas pela ação humana que envolvem aspectos físicos, estruturais, econômicos e sociais.
Um artigo de opinião assinado por 30 climatologistas e publicado pelo Le Monde afirma que se concentrar apenas no papel das mudanças climáticas tende tornar invisíveis outras causas fundamentais dos desastres naturais.
Afirmam os especialistas: “Os danos humanos e materiais causados por um desastre climático nunca são o resultado apenas do evento climático extremo. Ocorrem quando tal evento é combinado com uma vulnerabilidade pré-existente, por exemplo, populações em situação de precariedade econômica e social, idosos, jovens e/ou com saúde precária, infraestrutura mal adaptada, serviços de saúde e resgate mal preparados ou mal equipados”.
Essa é uma verdade evidente. As consequências dos desastres “naturais” não são apenas de origem natural. Decorrem de mau uso do solo e outras vulnerabilidades decorrentes da infraestrutura política, econômica e social, que “não se desenvolveram para proteger a vida e a dignidade das pessoas, atendendo às suas necessidades básicas”.
Os pesquisadores chamam a atenção para a necessidade de líderes preparados. As autoridades, tomadoras de decisão, precisam perceber com honestidade o que torna a humanidade vulnerável a eventos climáticos extremos, de forma a diagnosticar e reduzir as fontes de vulnerabilidade.
Se essa responsabilidade não for assumida, a sociedade humana não estará preparada para os eventos climáticos do futuro, que possuem prognósticos mais graves. Assim, reduzir a fragilidade nos territórios é um ponto essencial para a adaptação climática.
Segundo Lincon Alves, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), “o aspecto da vulnerabilidade, ou seja, o grau de suscetibilidade de uma cidade, uma comunidade, frente a essas ameaças, também depende de outros fatores como infraestrutura e capacidade econômica, social, disponibilidade de recursos para preparação frente aos desastres. Então, a combinação desses fatores é o que determina o risco climático”, aponta.
De acordo com especialistas em desastres, ex-funcionários da National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) e estudos científicos, a verdade sobre o aumento dos impactos climáticos, considerando pré-vulnerabilidades, está em outro lugar: com o tempo, a migração para áreas propensas a riscos aumentou, colocando mais pessoas e propriedades em perigo. Os desastres são mais caros porque há mais para destruir.
Se a situação das pré-vulnerabilidades sofre contínuas pioras, de outro lado os efeitos climáticos sobre os territórios ganham maiores previsões de risco.
O relatório da World Weather Attribution em parceria com a Climate Central, publicado em dezembro de 2024, traz constatações preocupantes. O relatório começa por considerar 2024 o mais quente da história: “As temperaturas recordes alimentaram ondas de calor implacáveis, secas, incêndios florestais, tempestades e inundações que mataram milhares de pessoas e forçaram milhões a deixar suas casas”.
O estudo pontua 41 dias de calor extremo, a morte de pelo menos 3.700 pessoas e o deslocamento de milhões em 26 eventos climáticos mais impactantes entre os 219 registrados durante 2024. E revela que “as mudanças climáticas desempenharam um papel maior do que o El Niño em alimentar esses eventos, incluindo a seca histórica na Amazônia”. Isso é consistente com o fato de que, à medida que o planeta aquece, a influência das mudanças climáticas se sobrepõe cada vez mais a outros fenômenos naturais que afetam o clima.
Para além dos territórios que abrigam grandes populações com vulnerabilidades pré-existentes, decorrente de sucessivas gestões públicas irresponsáveis, temos no Brasil o gigantesco desafio de proteger elementos essenciais que dão sustentação à vida, ecossistemas vitais, seja para manutenção da água, da agricultura ou atividades econômicas.
Um desses é o motor vivo, agitado e respirante da Amazônia. Além de transpor água para prover chuvas para o continente sul-americano, abriga centenas de comunidades indígenas, milhões de espécies animais e vegetais e 400 bilhões de árvores, além de número incontável de outros seres vivos que ainda precisam ser descobertos, catalogados e estudados, além de armazenar abundância de carbono, evitando que este venha a aquecer o planeta.
Cientistas têm alertado que, com a destruição continuada da floresta por desmatamento criminoso, sua imensa máquina de produzir umidade e fazer chuva possa quebrar, fazendo com que o resto da floresta murche e se degrade em savana, relegando o continente a intenso processo de desertificação.
Esse é um dos patamares perigosíssimos para onde a sociedade brasileira está sendo gradualmente lançada. As secas de 2024, que atingiram duramente as principais bacias hidrográficas do Oeste do Brasil, nos dão uma amostra dos impactos da desertificação em curso.
Assim, somam-se elementos naturais, aquecimento global e o paradigma extra de combater o avanço das vulnerabilidades pré-existentes. Dessa forma, o combate aos impactos das mudanças climáticas traz consigo o desafio de enfrentar as causas da piora continuada nos territórios, que ocorre sob as vistas grossas, ou estimulada por gestores irresponsáveis.
Além da eficiência no combate ao desmatamento, os instrumentos de ordenamento territorial devem ser repensados para o saneamento das inúmeras lacunas insustentáveis, como por exemplo a ocupação desregrada das várzeas, de encostas inabitáveis e áreas litorâneas de influência das crescentes e intrusivas marés.
A vulnerabilidade climática está intrinsecamente ligada a processos de governança do território. Tem se tornado insustentável pelo motor avassalador da devastação florestal pelo agronegócio predador; e na atuação especulativa e ambiciosa do setor imobiliário, alimentada ainda por elementos sociais como pobreza e a decorrente precariedade dos assentamentos humanos.
Adentramos 2025. Estamos dentro dessa era cada vez mais perigosa, causada pelo homem com o lançamento de gases efeito estufa, que potencializa mais e mais os impactos sobre o universo das pré-vulnerabilidades.
Vale perguntar aos gestores das cidades, dos estados e da União, aos deputados e senadores, vereadores e setores econômicos predadores: o que estão fazendo para conter o imenso rol de pré-vulnerabilidades que vêm sendo continuamente ampliada no Brasil? É preciso sair do caminho da ruína, como afirmou Antonio Guterres.
É uma fase perigosa para um mundo incauto.


Carlos Bocuhy – Vivemos a era dos retrocessos humanitários. É preciso sair da atual realidade limitadora de avanços civilizatórios. Será necessário um esforço adicional da sociedade humana para superar o desequilíbrio multifacetado do “backlash” planetário (involução na proteção ambiental), com bloqueios negativos e retrocessos que podem ser sentidos nas áreas do conhecimento, instâncias de governança ou na piora dos conflitos armados que permeiam a humanidade.
Enquanto o setor de direitos humanos de Genebra se demonstra incompreensivelmente silente em relação à situação atroz e evidente de inanição das crianças na faixa de Gaza, situações mais sutis ganham fortes proporções, como o desmantelamento de sistemas educacionais ligados à área de humanidades, como vem ocorrendo nos Estados Unidos.
O espírito de embate em defesa do conhecimento toma corpo dentro do meio acadêmico norte-americano, como na Universidade de Chicago, onde já ensinaram expoentes como Hannah Arendt, que já vaticinou que a “humanidade” não é mais, em nossos tempos, conceito norteador, mas sim realidade premente.
“Não se pode parar de produzir pessoas treinadas ou educadas para ajudar os alunos de graduação a entender as coisas mais importantes pensadas, escritas ou pintadas na história humana”, afirma o renomado filósofo Robert Pippin, do Comitê de Pensamento Social da Universidade Johns Hopkins e da Universidade de Chicago.
De fato! O atual estágio febril da humanidade ganha proporções inimagináveis quando considerada não apenas inação, mas atitudes que claramente agravam os riscos climáticos globais. Donald Trump ordenou que as agências governamentais identifiquem maneiras de aumentar a produção de petróleo e gás dos EUA, argumentando que administrações anteriores reduziram desnecessariamente a perfuração para combater as mudanças climáticas – e revogou os esforços do ex-presidente Joe Biden para bloquear a perfuração de petróleo no Ártico e ao longo de grandes áreas nas costas do Atlântico e do Pacífico dos EUA.
A influência da extrema direita populista, cujo projeto político se baseia na negação dos riscos climáticos e na sua minimização, vem provocando mudanças nos partidos conservadores na União Europeia e nos Estados Unidos. “Na Europa, o Green Deal está sob ataque, e do outro lado do Atlântico o Departamento de Energia dos EUA publicou uma teia de mentiras sobre as mudanças climáticas neste verão para justificar sua política de desregulamentação ambiental e para não ser mais forçado a reduzir as emissões de gases de efeito estufa”, afirma Valérie Masson-Delmotte, do Conselho Superior do Clima da França.
As defesas do humanismo trazem claramente o apelo de preservar o conhecimento, salvaguardar o aprendizado diante das ameaças do mercado e dos apelos grosseiros do utilitarismo imediatista econômico, que tem seu melhor exemplo na onda trumpiana ecocética que agrava o aquecimento global, abala relações internacionais e ameaça áreas mais progressistas do conhecimento, dentro ou fora da máquina estatal americana.
Salvaguardar a ciência e as boas iniciativas para proteger a humanidade dos aspectos non sense do imediatismo econômico são fato real, como o caos que se instala na ordem econômica global com as políticas coercitivas de taxações praticadas pelo governo Trump.
As práticas de espoliação imobiliária de Belém, no Pará, onde ocorrerá em novembro a COP30, também são exemplo. Aluguéis exorbitantes estão simplesmente inviabilizando uma das oportunidades globais mais relevantes para a história ambiental do Brasil e do mundo, a conferência climática global, que ocorre em pleno período de agravamento da emergência climática.
Recentemente a maioria dos parlamentares da Câmara Federal do Brasil atacou duramente o sistema de licenciamento ambiental, instrumento importantíssimo para a gestão da sustentabilidade territorial. Isso é ainda mais grave no cenário nacional, onde o planejamento se tornou incipiente diante das forças devastadoras em busca das facilidades econômicas que se abatem sobre o território amazônico, Pantanal e Cerrado, entre outros. É a vívida marca do colonialismo exploratório que a sociedade brasileira ainda não conseguiu conter.
O presidente do Senado brasileiro, David Alcolumbre, parece ter convencido o próprio governo brasileiro de que as normas ambientais do licenciamento podem ser relativizadas para regime especial de avaliação no âmbito governamental, se houver interesse federal considerado estratégico.
Essa classificação sempre foi um grande desafio, pois o conceito de desenvolvimento é confundido muitas vezes com mero crescimento, ou inchaço econômico, sem nenhum componente qualitativo de sustentabilidade. Dessa forma relativizou-se a normativa, lançando-a para um rito especial que restringe o tempo adequado para avaliação de impactos, atropelando aportes da ciência e dos direitos da ampla participação social.
Práticas excludentes, mas bem embaladas, se apresentam como jugo suave voltados ao cenário econômico, como se fossem benefícios à nação. Na realidade acabam por corroer direitos fundamentais da vida e da natureza, sacrificando o presente e o futuro, em troca de benefícios imediatos para a mão de poucos. Isso não é interesse nacional.
Estávamos um pouco distraídos enquanto esses processos se instalavam, afirma Jacques Rancière, filósofo e educador francês: “Não percebemos o movimento pelo qual a lógica capitalista da globalização se tornou a vontade de dominação absoluta dos corpos e mentes, e a busca pela redução de custos convergiu com ideologias identitárias e a paixão por eliminar o indesejável”. Adepto da democracia radical, Rancière afirma que “é difícil adaptarmo-nos a uma época em que se trata mais de resistência do que de invenção”.
Tempos de trincheira e resistência. Mas haverá a oportunidade para avançar, uma vez que este modelo, do ponto de vista ambiental, se esgota por si.
É preciso que a sociedade esteja atenta, uma vez que ainda existem dificuldades cognitivas profundas na espécie humana, causadas pela lógica puramente mercantilista, a tal ponto de permitir, por exemplo, a destruição da própria sustentação hídrica continental para lucrar com a devastação da Amazônia. Nada mais próximo da fábula da galinha dos ovos de ouro.
A COP30 será o grande indicador da capacidade humana de reação ao caos que vem se instalando. A responsabilidade do Brasil ao sediar a conferência é imensa. Além dos acordos em curso, que envolvem metas para redução de emissões e reparação de danos para países vulneráveis, o momento político da COP30 é extremamente oportuno para avaliar a extensão dos impactos da atual era de retrocesso sobre o equilíbrio climático – e propor medidas firmes para sua superação.
Fonte da matéria: Era de retrocessos humanitários e ambientais – ((o))eco – https://oeco.org.br/colunas/era-de-retrocessos-humanitarios-e-ambientais/


BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A direção do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) usou um parecer alternativo para autorizar os testes da Petrobras na Foz do Amazonas e driblar a opinião dos técnicos do órgão, que haviam recomendado barrar a operação.
Na prática, a recomendação inicial contrária (assinada por 29 técnicos) tramitou no órgão, mas, ao chegar no topo da hierarquia, foi mencionada para determinar o inverso: o aval para a operação, assinado por Agostinho.
Procurado, o Ibama afirmou que o processo corre em "absoluta segurança técnica e jurídica".
"O plano, em seus aspectos teóricos e metodológicos, atendeu aos requisitos técnicos exigidos e está apto para a próxima etapa: a Avaliação Pré-Operacional (APO)", disse, em nota.
Agora, a Petrobras pede ao Ibama que a simulação da operação no bloco 59 da bacia de Foz do Amazonas aconteça em julho, mas ainda não há uma data definida.
O instituto sofre grande pressão política, inclusive do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para liberação do empreendimento, que fica na região da cidade de Oiapoque, no Amapá.
Também defendem o projeto nomes como os ministros Alexandre Silveira (Minas e Energia) e Rui Costa (Casa Civil), o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).
Este último, inclusive, conseguiu emplacar uma emenda ao projeto que flexibiliza o licenciamento ambiental no Brasil que pode acelerar empreendimentos como o de Foz do Amazonas.
Como mostrou a Folha de S.Paulo, o novo leilão de petróleo da região (marcado para o próximo dia 17) pode ser a última chance para o governo Lula ampliar a exploração na região —a depender do resultado da análise do Ibama sobre o caso da Petrobras.
O governo espera contar com a arrecadação do setor e, por isso, pressiona pela aprovação do projeto —servidores, por outro lado, criticam a pressão política sobre o licenciamento.
A ala ambiental do Executivo defende que a definição final será exclusivamente técnica, porém mais de uma vez a decisão do presidente do Ibama contrariou o corpo de especialistas do órgão, que desde 2023 recomenda o indeferimento e o arquivamento do pedido.
A Petrobras vem recorrendo e atualizando seus documentos para tentar conseguir a licença.
A Folha de S.Paulo revelou que, em outubro de 2024, técnicos do Ibama reiteraram a negativa após novo plano apresentado pela estatal, mas Agostinho resolveu dar continuidade ao processo.
Em fevereiro deste ano, o jornal O Globo noticiou que novamente a equipe recomendou a rejeição e o arquivamento.
Agostinho, como mostrou a revista Sumauma em maio, novamente contrariou sua equipe.
Na opinião dos técnicos, a Petrobras apresentou uma "reiterada recusa" em considerar impactos ambientais e exigências do órgão, e "opta por enaltecer a excelência do plano", apesar dos "aspectos relevantes que seguem não atendidos pela empresa".
A análise técnica do Ibama coloca em dúvida se esse plano é executável —pela inadequação das embarcações previstas, por subestimar as condições meteorológicas da região, ou por desconsiderar obstáculos logísticos para o salvamento de animais, dentre outros pontos.
O documento admite melhoras substanciais, mas é claro ao não aprovar o plano de proteção da fauna. "Logo, entende-se não ser viável o início do planejamento para realização da Avaliação Pré-Operacional", conclui a recomendação.
Assinado em 26 de fevereiro, o "parecer técnico" negativo é o primeiro de cinco documentos internos do Ibama, aos quais a Folha de S.paulo teve acesso, até a decisão de autorizar a avaliação.
Em 5 de março, a posição dos técnicos é inicialmente referendada, e o processo fica então mais de dois meses parado.
A mudança acontece no final da tarde de 19 de maio, quando a diretoria de licenciamento do Ibama emite uma "manifestação técnica", referente ao parecer de fevereiro, mas, ao invés de concordar com a rejeição do plano e inviabilidade da simulação, vai na direção inversa.
A direção entende que os técnicos não apontam "maiores questionamentos quanto ao dimensionamento da resposta e recursos envolvidos, mas sim dúvidas quanto à exequibilidade do plano proposto".
Por isso, entende "como alternativa plausível" determinar a "aprovação conceitual" do plano de proteção, que havia sido rejeitado pelos técnicos.
E diz que é justamente a simulação, antes barrada, que pode proporcionar uma "adequada avaliação" sobre se a proposta da Petrobras é, ou não, executável, para só então ser dada a palavra final.
Cerca de dez minutos depois um novo despacho reitera este entendimento e, em menos de vinte minutos, o presidente do Ibama publica sua decisão.
São "absolutamente legítimas" as preocupações dos técnicos, diz, mas a "alternativa indicada" pela diretoria é o "instrumento adequado para avaliação da exequibilidade do Plano".
Segundo especialistas em licenciamento ouvidos pela reportagem, é permitido aos superiores discordar das avaliações técnicas —que, afinal, são apenas recomendações.
A aprovação conceitual é estranha, dizem, e o procedimento de usar o próprio teste para aprovar o plano não é usual.
Para Carlos Bocuhy, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, a rejeição ao plano deveria automaticamente barrar os testes.
"Estamos diante da tentativa de justificar a continuidade de um empreendimento ambientalmente descartado por meio de simulação semântico-burocrática", diz.
"Em outras palavras, trata-se de fazer o impedimento desaparecer por meio de ilusória mudança de foco. A avaliação ambiental, ao que parece, está migrando do plano técnico-científico para incongruente conveniência política", conclui.


Tornar a dor em ação regenerativa é altamente profilático e recomendável. É preciso sair do imobilismo paralisante
O mundo, como o conhecemos, está se transformando. A percepção das mudanças climáticas faz com que comunidades em todo o mundo enfrentem a constatação de perdas de elementos naturais ou alterações substanciais em nossos ambientes construídos.
É natural que haja um sentimento de perda, da regularidade do clima e de tempos mais amenos e equilibrados; da segurança climática, para a qual havia maior previsibilidade, quando eventos extremos eram raros e muitas pessoas passavam toda a sua existência sem ter que vivenciá-los.
Há ainda uma perda de qualidade de vida decorrente do estado de intranquilidade gerado pela informação: sequenciais eventos registrados e socializados pela mídia demonstram os novos fenômenos globais.
A mudança do clima acaba por atingir o bem-estar das pessoas, de forma sensível, em todo o planeta. Especialistas estão denominando esse novo feeling global de luto ecológico.
Três tipos de perda têm sido citados: a perda ecológica física diante do desaparecimento, degradação ou extinção de espécies, paisagens e ecossistemas. Por exemplo, como resposta a eventos climáticos extremos agudos, como um furacão; e mudanças ambientais graduais, como, por exemplo, mudanças nos padrões climáticos.
Em segundo lugar, a perda do conhecimento ambiental anterior, no que se refere à ruptura de identidades pessoais e culturais que são construídas em relação às características e ao conhecimento do ambiente físico. Em terceiro lugar, a perda futura antecipada relacionada a espécies, paisagens, ecossistemas, modos de vida ou meios de subsistência.
Há mais um elemento a considerar: a capacidade, ou sensibilidade, de percepção sobre essas perdas. É notório o fato de que a urbanização nos isolou, mental e emocionalmente, de grande parte dos danos que os humanos infligiram à Terra. Esse isolamento é considerado pela psicóloga climática Steffi Bednarek como resposta emocional amplamente atrofiada ao desastre ecológico em massa, à sociedade que construímos.
A ideia é que muitos de nós nos divorciamos da natureza pelas forças do modelo econômico, do capitalismo, da industrialização e da urbanização. E, como resultado, Bednarek argumenta que estamos muito distantes para sentir afinidade com a grande diversidade de vida na Terra, grande parte da qual tem sofrido silenciosamente os efeitos das mudanças climáticas há décadas. Essa lacuna também pode ser considerada não como falta de conhecimentos dos fatos, mas como incapacidade de empatia, ou incapacidade de compaixão.
Essa parece ser uma crítica acertada e justa da condição moderna. Deve-se considerar que nosso habitat artificial, nossas cidades, são ecossistemas construídos que abrigam seres vivos e também estão se fragmentando devido à instabilidade de um clima alterado, com inundações, deslizamentos de terra e picos de calor extremo, por exemplo.
Para a maioria dos moradores da cidade, a maneira como experimentamos as mudanças climáticas não vem do colapso das formações naturais, mas dos danos à infraestrutura feita pelo homem que compõe nossos espaços urbanos e nossas vidas diárias. Quando essa infraestrutura é prejudicada ou destruída, seja pelo vento, pelo fogo ou pela inundação, ela altera nossos habitats – e isso também provoca uma intensa sensação de perda emocional e instabilidade.
“As cidades são ambientes mais extremos do que as áreas rurais no contexto das mudanças climáticas”, diz Brian Stone Jr., professor de planejamento e design ambiental urbano no Instituto de Tecnologia da Geórgia.
De acordo com sua pesquisa, os moradores da cidade tendem a ficar cara a cara com as mudanças climáticas por meio de episódios cada vez mais comuns: chuvas fortes trazem inundações regulares para uma determinada esquina; o metrô leve sai de serviço porque as altas temperaturas sobrecarregam as linhas de energia; uma seca de verão que mata as árvores que sombreiam um playground local. Para aqueles que dependem de todos esses componentes cotidianos da vida na cidade, cada um desses episódios “é muito mais ativador da consciência climática e potencialmente do luto do que uma grande plataforma de gelo se desprendendo da Groenlândia”.
Embora tenhamos construído nossas cidades como fortalezas contra as forças da natureza que as cercam, estamos aprendendo da maneira mais difícil que o concreto é vulnerável à ira provocada por uma atmosfera em aquecimento, aumento do calor, luta para absorver o excesso de água, rachaduras e desmoronamentos.
“Na verdade, não entendemos fundamentalmente que as cidades que construímos também fazem parte da natureza”, afirma o arquiteto australiano Adrian McGregor: “Nós as operamos, nós as gerenciamos e elas dependem de nós para mantê-las vivas. Mas, também, elas são o nosso maior habitat em que existimos. Atualmente, cerca de 80% da população do mundo vive em áreas urbanas”.
McGregor promove a teoria do “biourbanismo“, que vê as cidades como uma forma de natureza por si só. Essa estrutura é influenciada pelos geógrafos Erle Ellis e Navin Ramankutty, que desenvolveram o conceito de “antromes”, ou biomas antropogênicos, que são ecossistemas moldados pelo homem. Mas é menos provável que você veja o termo luto ecológico aplicado a uma estação de metrô inundada da cidade de Nova York .
Os cientistas relataram sentir choque e perda a cada retorno consecutivo à Grande Barreira de Corais, à medida que novas extensões de corais branqueiam e secam. Em todo o país mineiro dos Apalaches Centrais dos Estados Unidos, onde as montanhas foram reduzidas pela metade e as florestas são derrubadas para extrair carvão, a dor aparece na forma de condições de saúde mental diagnosticáveis.
É importante registrarmos como as comunidades estão lidando com a dor da perda. Exemplos nos remetem simbologia relacionada com perdas humanas, por exemplo, com a realização de ritos de funerais, como o funeral da geleira Ok de 2019 na Islândia, realizado por uma centena de pessoas que caminhou até a geleira e conduziu uma cerimônia que incluiu leituras de poesia e discursos.
Como você pode lamentar a perda de uma geleira – um recurso inacessível para a maioria da humanidade? A perda da beleza das geleiras é poderoso motivador para as pessoas perceberem a perigosa perda de identidade de estruturas que servem como marcos culturais importantes, como a geleira Ok para o povo da Islândia.
Embora os olhos de outras pessoas registrem impressões, filmem e fotografem, fornecendo uma riqueza de fontes para ver e perceber as geleiras, essas imensas massas muitas vezes permanecem intangíveis e estão geograficamente distantes. E, no entanto, é por causa de sua beleza e magnitude que seus desaparecimentos são sentidos por muitos. O mesmo sentimento pode se aplicar à contínua perda da Floresta Amazônica, ou de extensas áreas do Pantanal, no Brasil.
Há ainda um elemento necessário para reflexão, na busca de equilíbrio emocional para os atingidos pela percepção mais aguda dos impactos climáticos. Freud escreveu em 1917 um pequeno estudo sobre luto e melancolia, considerando o luto a perda de objeto que pode ser superada com o tempo, porém destaca que a melancolia traz em si a perda do próprio eu, comprometimento do ego que nos leva a refletir sobre como lidar com este impacto climático, principalmente sobre os mais vulneráveis e susceptíveis.
Em 2017, a American Psychological Association publicou um relatório de setenta páginas sobre saúde mental e mudanças climáticas que delineou “impactos, implicações e orientações” para o sofrimento ecológico. Um ano depois, uma pesquisa nacional descobriu que quase 51% dos americanos se sentem “enojados” ou “desamparados” com o aquecimento global.
O filósofo Glenn Albrecht desenvolveu um vocabulário para descrever a experiência emocional de viver durante as mudanças climáticas: Solastalgia, que descreve como uma saudade nascida da observação da degradação ambiental crônica do seu ambiente; Tierratrauma refere-se à dor aguda de testemunhar ambientes em ruínas, como uma floresta desmatada ou um riacho cheio de lixo. A base do trabalho de Albrecht é que os humanos estão fundamentalmente conectados aos nossos ambientes naturais e sentimos dor quando eles são danificados.
Dessa forma, não é nenhum exagero dizer que viver nos dias das mudanças climáticas significa viver na era do luto ecológico e que este pode se transformar, ou potencializar aspectos patológicos e existenciais.
A perda ambiental extrema, por sua vez, leva a um aumento do custo emocional que inclui tristeza, ansiedade e novos fenômenos psicológicos, reconhecidos como “solastalgia”, o sentimento de saudade de um lugar que ainda habita e que agora se encontra, porém, drasticamente alterado. Uma saudade da condição anterior.
Solastalgia tornou-se um dos termos-chave usados para descrever o esmagador custo emocional da perda ambiental, que pode perfeitamente ser aplicada ao contexto do Furação Katrina em New Orleans ou ao desastre avassalador das chuvas que ocorreram no Rio Grande do Sul, em 2023 e 2024.
Em 2020, a BBC publicou um artigo sobre luto climático, destacando a necessidade de desenvolver um novo vocabulário para ecoansiedade, como “ansiedade da neve” ou “luto do inverno” em referência a emoções específicas do lugar. Uma rápida pesquisa no Google produzirá centenas de artigos sobre ecoluto de fontes de notícias em todo o mundo, incluindo jornais locais, institutos de pesquisa e plataformas de mídia nacionais.
O luto psicológico climático pode também ser considerado como aguda percepção do problema a ser enfrentado, portanto com potencial de elemento propulsor das pessoas para a ação.
A cobertura extensiva da mídia, juntamente com fotos de catástrofes – os tipos de fotos e manchetes que atraem cliques –, podem facilmente fazer as pessoas se sentirem paralisadas por uma sensação avassaladora de pavor. De outro lado potencializam ações propositivas que auxiliam na superação da dor do luto, como afirma Catherine Bruns, pesquisadora em Estudos de Comunicação da Universidade de Minnesota-Twin Cities, enfatizando a oportunidade valiosa para divulgar os elementos naturais que ainda sobrevivem, concretizar o que está em jogo e definir formas de proteger remanescentes, por meio de ações pragmáticas de exigência social transformadora.
“Se a cobertura da mídia sobre as vítimas climáticas direcionasse consistentemente os leitores a doar para organizações sem fins lucrativos de justiça climática, assinar petições para fortalecer a legislação ambiental ou participar de protestos políticos, não apenas faríamos progressos mais rápidos no combate às mudanças climáticas, mas também reduziríamos nossa própria ansiedade climática ao longo do caminho”, explica Bruns.
Pessoas buscam abrigo contra o calor no centro de resfriamento da First Church UCC em meio à pior onda de calor já registrada em Phoenix, Arizona (EUA), em 25 de julho de 2023. Embora Phoenix enfrente períodos de calor extremo todos os anos, em julho foram 26 dias consecutivos de temperaturas atingindo 43°C graus ou mais, um novo recorde em meio a uma onda de calor de longa duração no sudoeste do país. O calor extremo mata mais pessoas do que furacões, inundações e tornados combinados em um ano médio nos EUA. Foto: Mario Tama / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP.
Janet Lewis, psiquiatra e membro fundador da Climate Psychiatry Alliance, comentou em entrevista ao GlacierHub que para que as pessoas lidem com informações relacionadas às mudanças climáticas, é importante entender que estão inseridas em contexto maior. O que nos ajuda a suportar os sentimentos difíceis para pensar com clareza e agir. “É importante ser capaz de afirmar as maneiras pelas quais continuamos a fazer parte de algo maior, mesmo quando estamos perdendo muitas coisas e as relações com essas coisas”, afirma.
À medida que o mundo continua a sofrer perdas ambientais inevitáveis, os rituais de luto ecológico podem se tornar uma rotina comum, proporcionando espaço para as pessoas lidarem com o novo fardo emocional de um mundo em rápida mudança. Torná-los públicos por meio da cobertura da mídia pode multiplicar ainda mais seu impacto, conscientizando populações em risco, que estão passando por perdas extremas no presente, promovendo uma resposta que une empatia e ação.
Organizações como a Solutions Journalism Network estão lidando com questões urgentes sobre como os jornalistas podem adotar uma abordagem baseada em soluções para a cobertura da imprensa. Uma placa erguida no funeral da geleira OK alerta os presentes sobre as consequências da inação: “Este monumento é para reconhecer que sabemos o que está acontecendo e o que precisa ser feito.” Os meios de comunicação foram rápidos em captar a mensagem da placa e as fotos logo se tornaram virais, garantindo que o público global entendesse o funeral não apenas como um ritual de luto, mas um terrível e contemporâneo apelo à ação.
Embora tais funerais representem realidade trágica, eles também têm um imenso potencial – uma oportunidade para as pessoas se unirem em um momento de luto antes de retornar à tarefa urgente: superar pela ação o sofrimento visando garantir que nosso relacionamento com o meio ambiente seja mais proativo e não se torne uma série de funerais que se repetem.
Para aqueles que sofrem de ansiedade climática, tornar a dor em ação regenerativa é altamente profilático e recomendável. Para tanto será preciso transmutar o sentimento de desamparo diante da fúria do clima em protagonismo regenerativo.
É preciso sair do imobilismo paralisante e quebrar as resistências econômicas nocivas. É preciso promover educação sobre mudanças climáticas visando capacitação e adoção de novas estratégias de enfrentamento, a utilização de meios de intervenção na realidade para superação do desgaste psicológico, seja por meio de terapias convencionais, específicas, de ampliação da consciência sobre a problemática real em busca das melhores soluções para o problema.
Alimentar essa transição deve obrigatoriamente fazer parte das ações governamentais para capacitar a sociedade e aumentar sua resiliência e a capacidade de exigência social transformadora, o que poderá resultar em um salto civilizatório para um mundo com empatia ecológica, com perspectivas de prioridades mitigadoras e adaptativas voltadas à sustentabilidade em seu sentido mais profundo: a sobrevivência.
Destaques


Retrospectiva 2025 PROAM
08 Dez 2025


Diplomacia Climática pós-COP30
21 Nov 2025


Villa entrevista Carlos Bocuhy sobre a COP30 - Assista no YouTube
18 Nov 2025


Manifesto do Trópico de Capricórnio
08 Nov 2025
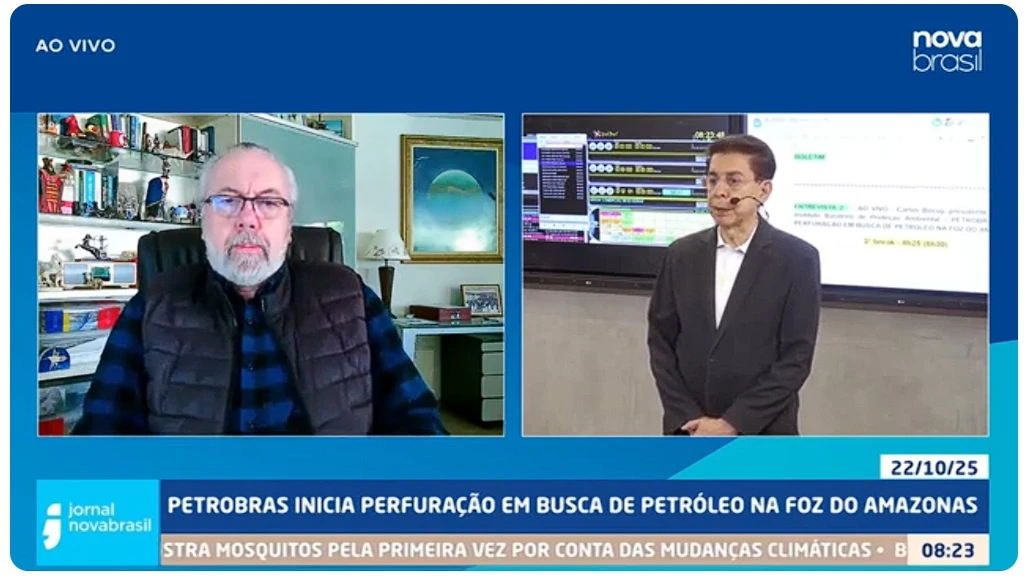
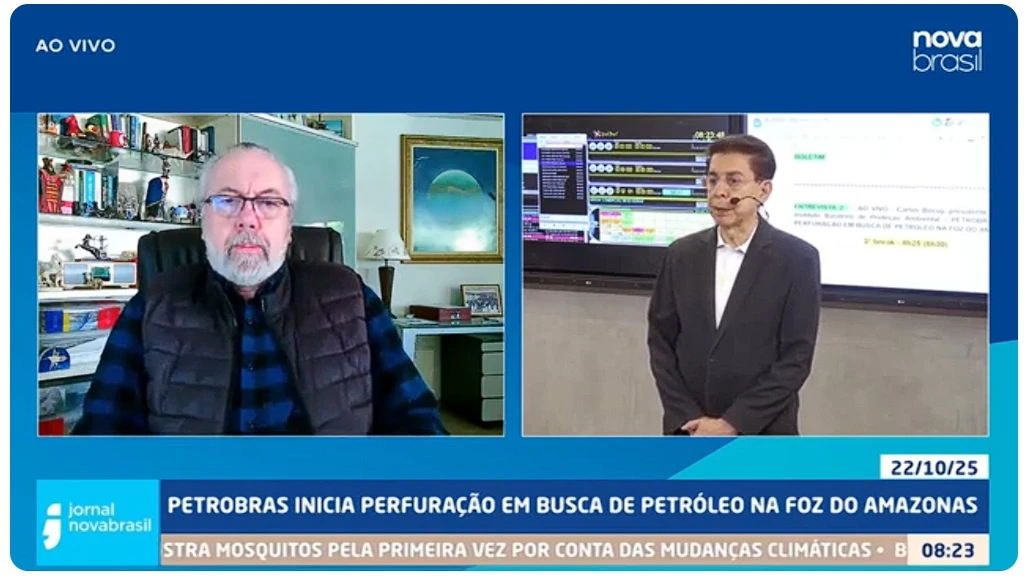
Prejuízos da extração de petróleo na foz do Amazonas
28 Out 2025


Vetos ao PL do licenciamento só resolvem a parte mais gritante do problema, afirma presidente do PROAM
16 Ago 2025


O desafio de combater as vulnerabilidades climaticas
14 Jul 2025


Era de retrocessos humanitários e ambientais
09 Jul 2025


Ibama dribla tecnicos com parecer alternativo para liberar testes na Foz do Amazonas
03 Jun 2025


Luto ecologico e protagonismo climatico
09 Nov 2024

